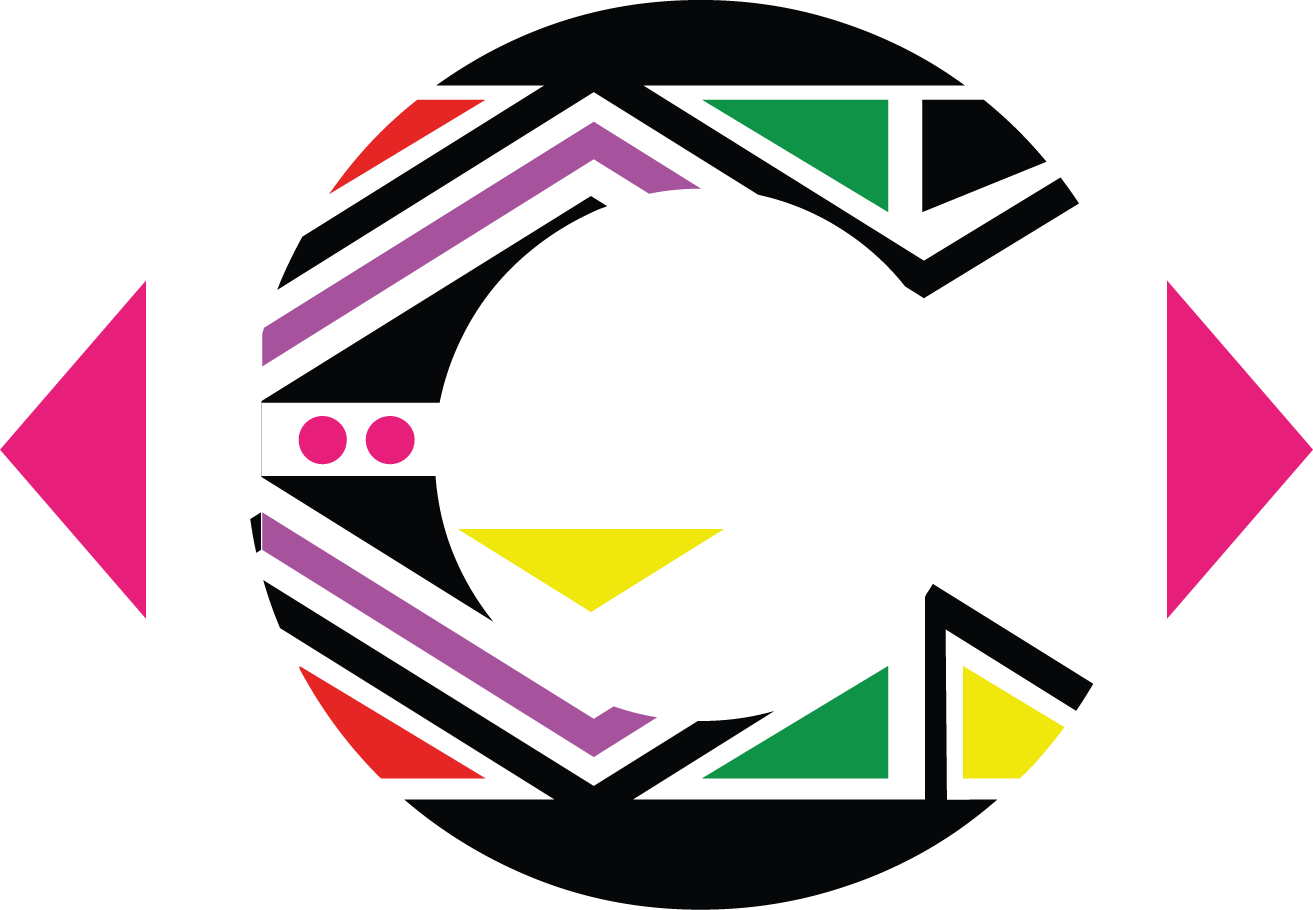Três mil quilômetros e um oceano separam Fortaleza de Guiné-Bissau. Para a família Sanca, também uma morte marca essa distância. A de Milton, cujo corpo há 18 dias ocupa uma das gavetas do necrotério do Hospital Geral da cidade. Ele morreu de AVC em 25/4. Mas nem agora, depois de morto, no Orum, tem paz. Não lhe dão este direito. Assim como não deram em vida física, aqui, no Aiê.
Milton veio para o Brasil em busca de trabalho. Era arrimo de família. Deu origem a quatro filhos. Tinha uma companheira. Pai vivo e mãe viva. Todos na África. Em Guiné. Ele estava aqui desde 2019. Mandava dinheiro para os parentes. E comemorava a assinatura da carteira de trabalho, ocorrida em janeiro último, após tanto tempo como autônomo. Morreu a um mês de chegar aos 40.
Não teve o privilégio de uma vida confortável. No Ceará, morava na periferia de uma grande cidade, também uma das mais desiguais do mundo e que carrega fortalezas apenas no nome. Logo, Milton não teria dignidade alguma na morte. Afinal, quem ele pensava que era? Apenas mais um africano, oras! Não guineense. Africano. Era só africano. Com o agravante da negritude. Africano-negro que, agora morto, que não contribui mais com as riquezas do Brasil, que não tem mais uma parte do salário corroída por impostos, que não gasta mais em comida, aluguel e compras outras, virou desimportante. Tornou a ser invisível e corre o risco de ser enterrado longe da família. Sem paz.
O corpo dele não sai do hospital porque parentes lutam para arrecadar os 40 mil reais necessários ao traslado Fortaleza-Guiné. O poder público brasileiro, em todas as suas esferas, lava as mãos. Não custeia a volta de Milton à terra-natal por ser legalmente desobrigado. Somente se o homem fosse nativo daqui teria esse direito. É o que diz a lei. A Embaixada de Guiné em Brasília alega não poder fazer algo pelo fato de o morto não ser estudante. Como se não estar aqui para um curso superior o fizesse menos cidadão guineense. O Judiciário, em todos os casos similares até hoje julgados, nega o traslado pago pelo poder público valendo-se também do argumento de desobrigação do governo. Ainda assim, a família buscou a Defensoria Pública da União (DPU). Aguarda enquanto arrecada.
Em resumo: a preço de agora, ou a família conta com a solidariedade de gente estranha para juntar uma fortuna que nunca teve (e, provavelmente, nunca terá) ou Milton será enterrado aqui. Longe 3.000 quilômetros dos parentes. Sem cumprir nenhum dos ritos de passagem que tanto caracterizam as sociedades africanas diante da vida e da morte. Sem direito aos filhos, esposa, pai e mãe despedirem-se. Mãe essa que atravessou o próprio dia, no segundo domingo de maio, com o filho já morto duas semanas antes. Porque não basta Guiné-Bissau ser o quarto pior país do planeta para a maternidade. É preciso essa mulher ser submetida à violência de não poder devolver à terra o próprio ser que essa mesma terra lhe permitiu parir há quatro décadas. Uma violência causada por burocracias legais nossas, sim, mas, sobretudo, fruto da falta de empatia do brasileiro com o fim da trajetória de homens negros. E nós sabemos o quanto nosso povo também ainda rejeita tudo o que é da África.
No caso de Milton, ele é, além de africano, negro. De pele escura. Escandalosamente preto. Um tição, como equivocadamente dizemos no Ceará. Para a manifestação do perverso racismo à brasileira, uma coisa puxa a outra. Ele é, portanto, africano-e-negro. “Feio, quase um macaco”, diriam os racistas. Logo, pra que a gente se preocupar com um enterro decente pra ele? Esse povo já está acostumado a ser jogado em qualquer canto, que nem bicho. Não é isso o que os livros de “história” ensinam? Não foi isso o que europeus, sobretudo ingleses, belgas, alemães, holandeses e franceses fizeram por séculos? Invadiram, violentaram, venderam e mataram? Sim, foi. Em alguns casos, faziam isso até a década de 1980.
Diante de tudo isso, a pergunta que me atravessa é: fosse Milton Sanca, 39 anos, pai de quatro filhos, um homem branco, loiro e de olhos azuis, o corpo estaria há quase três semanas numa geladeira? Ou o fetiche europeu brasileiro (e também o cearense, que, garante um certo estudo dito científico, é de origem nórdica) já o teria salvo, numa demonstração de solidariedade entre povos? A resposta é óbvia, mas vivemos tempos nos quais o óbvio precisa ser dito: o Milton europeu já estaria em casa. Na verdadeira e derradeira casa. Mas Milton era africano-e-negro.
É inimaginável chegarmos em 2022, após a feitura de tantos tratados internacionais entre Brasil e África, depois de tantas visitas presidenciais brasileiras a países africanos, com tantas instituições de fomento ao turismo estimulando a vinda de cidadãos africanos ao nosso país, e ainda não termos um dispositivo legal que resguarde o direito dessas pessoas a uma morte digna. A um traslado. A um enterro rodeadas dos seus e das suas. Há humilhação e racismo até no fim. Ou principalmente nele, como poderiam refletir os intelectuais que debatem a necropolítica. Porque sim. Não permitir a volta de Milton a Guiné-Bissau é uma manifestação da nossa necropolítica. O direito à morte após a morte é mais branco do que negro.
Passou da hora de povos africanos quando morrem no Brasil dependerem da solidariedade popular para retornarem às suas famílias. A presunção de uma postura antirracista numa sociedade como a nossa, calcada em relações raciais conflituosas e assimétricas, para um desfecho humanizado de um episódio como o de Milton é abandono. É torcer para dar errado. Porque pra muita gente – e gente que a gente conhece, que está do nosso lado – o antirracismo é uma tag em rede social. E só. Nunca seria um estilo de vida que compreende desigualdades e tenta dirimi-las. Ou então esse antirracismo é a caridade que essa gente faz pontualmente achando que pratica justiça social – e, em verdade, é mesmo apenas caridade e tem função bem específica: um afago na consciência.
Precisa ser dever do estado brasileiro uma solução para casos como o de Milton, que não é o primeiro nem será o último africano-e-negro a morrer aqui. Do contrário, mais e mais famílias também vão estar com o pires na mão, pedindo ajuda para algo tão rudimentar quanto um enterro. Até agora, 18 dias depois da morte do guineense e tendo a família quase caído num golpe, pouco mais da metade do que se precisa para levar o corpo de volta à África foi coletado. E uma mãe chora todo dia essa solidariedade seletiva que demora tanto a alcançar o filho morto dela, que nasceu africano-e-preto e não europeu. Um corpo permanece congelado numa gaveta de necrotério.
O Atlântico entre Fortaleza e Guiné, que nos separa, portanto, do lugar onde toda a humanidade começou, é o mesmo oceano que tragou milhares de vidas negras arrancadas dos seus lugares de origem durante os quase 400 anos de escravidão da história brasileira. É esse mesmo conjunto de águas que impede Milton de regressar ao local de onde foi forçado a sair, pela conjuntura de um mundo desigual e ruim, em busca de prover filhos, esposa, pai e mãe.
Pensar que nenhum deles pode ter o direito à despedida é desolador.

O CEARÁ CRIOLO FOI O PRIMEIRO PORTAL DO BRASIL A NOTICIAR O CASO.

Comunicólogo e mestre em Antropologia, é especialista em Jornalismo Político e Escrita Literária e tem MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais. Foi repórter e editor dos jornais O Estado e O POVO, correspondente do portal Terra e colaborador do El País Brasil. Atua hoje como assessor de comunicação. Venceu o Prêmio Gandhi de Comunicação, o Prêmio MPCE de Jornalismo e o Prêmio Maria Neusa de Jornalismo, todos com reportagens sobre a população negra. No Ceará Criolo, é repórter e editor-geral de conteúdo. Escritor, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura 2020.