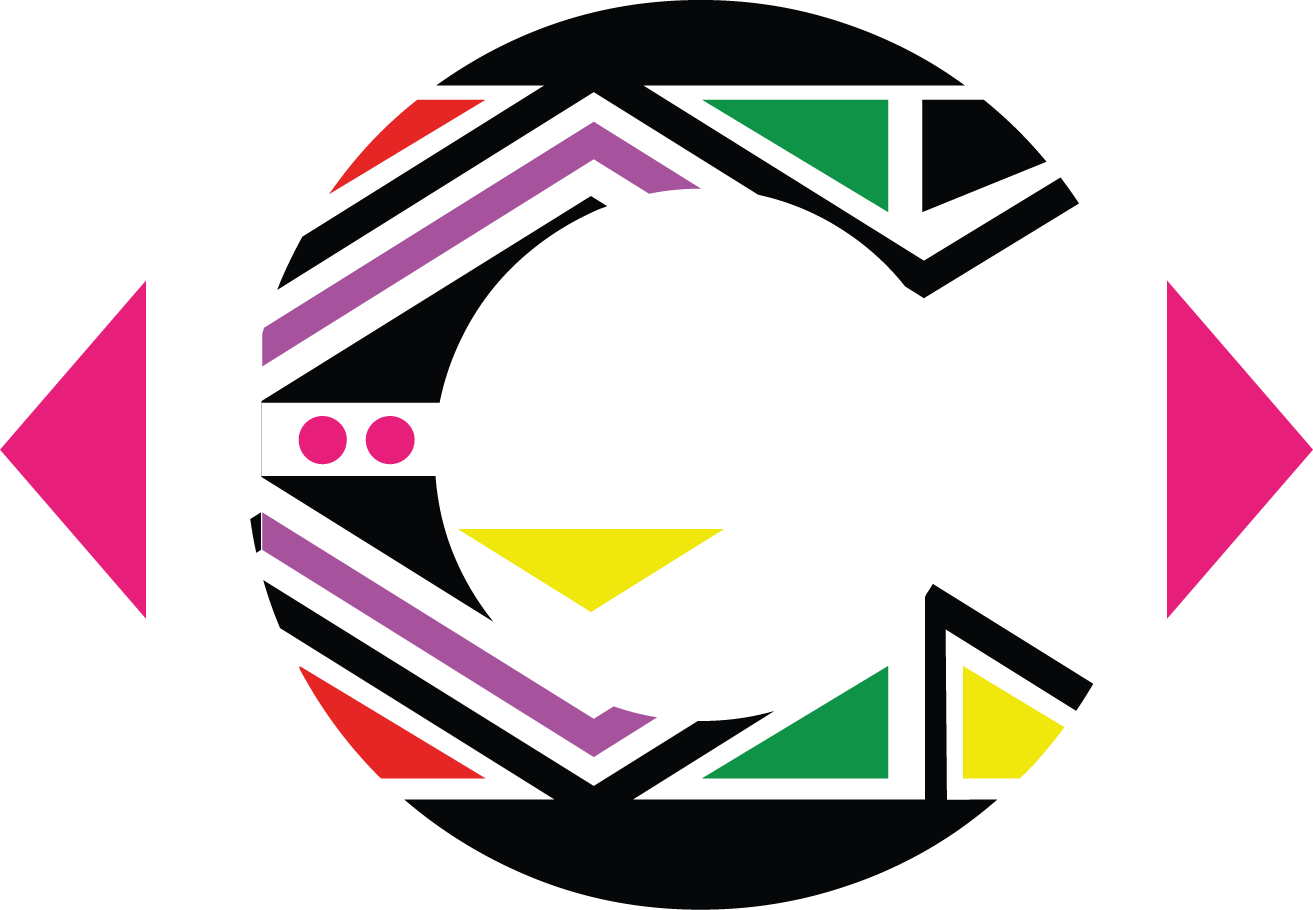A gente passa a vida reprimindo o que sente. É ensinado a isso. Não pode chorar. Chorar é sinal de fraqueza. E ser fraco é ser fracassado. Ainda mais se for homem. Não pode ficar triste. Tristeza é sinal de instabilidade emocional. O correto é ser o mais linear possível nas emoções. Não pode desistir de um amor. Amores são eternos e devem ser buscados a todo custo. Blá blá blá blá.
Pois bem. Eu chorei. E no meio da mais básica das funções da minha profissão, que também me disse desde o primeiro semestre de faculdade para não me envolver com entrevistados. Mas colhi o depoimento de uma mulher e chorei. E ela percebeu. E perguntou: “se emocionou, Bruno?”.
Sim, me emocionei.
Em 13 anos como jornalista profissional e outros quatro de atuação no mercado enquanto estudante de comunicação, isso nunca havia me acontecido. Chorei ao chegar na redação, trancado no banheiro, após entrevistar um pai cujo filho foi morto com um tiro na nuca dado por um policial. Chorei no carro, a caminho de casa, depois de escrever matéria sobre um menino de dez anos que se acidentou numa obra da prefeitura e não resistiu aos ferimentos. Chorei em casa, na cama, na iminência de dormir, lembrando dos jovens assassinados numa churrascaria de periferia. E até chorei na frente dos colegas quando um amigo de trabalho caiu de um prédio e sumiu das nossas vidas mais cedo do que desejávamos. Verti muita lágrima, quase todas por gente que foi pro lado de lá da vida, mas lágrimas mais pra dentro de mim do que pro testemunho do mundo.
E nunca diante de um entrevistado.
Tenho desconstruído em mim esse pudor de falar sobre o que sinto. Compreendi que não há vitória em ser inabalável. Nos últimos anos, sempre me pergunto: no fim, quem salva o herói que salvou o mundo? Não preciso ser o herói. Não quero ser esse herói.
Chorei por isso ao esbarrar nas palavras que a mulher me disse. Uma mulher negra. Africana. Professora. Intelectual. Pesquisadora. Nada afeita a jornalistas. E que me destinou dizeres de afeto. “É um privilégio ser entrevistada por um dos meus. Porque normalmente não são nossos pares quem nos entrevistam. É muito simbólico essa ser minha primeira entrevista no cargo que ocupo agora e ela ser feita justamente por você.”
Foi o que ela disse. E eu me dei conte de que, de fato, foram poucas, pouquíssimas as pessoas negras que entrevistei durante toda a minha trajetória no Jornalismo. Dezessete anos em redações e universidades, e sou capaz de contar nos dedos das duas mãos os indivíduos negros que me atravessaram na mesma perspectiva dessa mulher: num cargo de poder, com o maior dos títulos educacionais, tomando decisões que impactam em milhares de outras pessoas e consciente da função social que cumpre dentro e fora da instituição a qual faz parte.
Chorei e expliquei a ela o porquê.
Na minha caminhada estudantil, só tive uma professora negra. Sueli. Meu caminho cruzou com o dela no pré-universitário. Uma mulher suntuosa. A mais elegante. Sempre de blazer com estampa de flores, sapato bico finíssimo, cabelo desenhado no laquê, batom vermelho, sorriso farto e a língua portuguesa afiadíssima no juízo. É ela a responsável por eu hoje ser um profissional das palavras. Mas também foi a única. Todos os demais educadores de quem tenho memória do maternal ao ensino médio foram brancos.
Não mudou no ensino superior. Nos meus quatro anos de graduação, apenas um professor negro me deu aula. Um homem. Jornalista. Fotógrafo dos bons. Hoje defensor de um presidente inescrupuloso (e, por isso, não mais dentro do meu círculo de amigos), mas que naquela época da minha vida – 2005? – foi fundamental para meu olhar compreender muita coisa do complexo universo jornalístico.
As pós-graduações seguiram o exemplo. Professores brancos, com referenciais bibliográficos brancos e sem letramento racial nenhum. Ou seja: ignorantes, como muitos de nós somos durante muito tempo, quanto ao poder esmagador do racismo nas relações sociais. E, para ser franco, muitos sem qualquer interesse nesse letramento.
Sem falar dos que ocupavam as cadeiras. As salas, todas elas, eram praticamente brancas. Eu e um ou outro destoávamos. Não me chocou no ensino regular, não me chocou na graduação, não me chocou nem mesmo nas pós-graduações. Mas choca agora e só reforça o choro que tive diante de uma entrevistada gêmea da minha história.
“É diferente ser entrevistada por um negro. A gente percebe imediatamente o quanto as perguntas carregam de identidade, de compreensão da dor. É outro nível de pertencimento. Me sinto privilegiada e lhe agradeço por isso”. Ela, a mulher com nome “perfeição”, reagiu assim. E com sorrisos. Eu, do outro lado da ligação, aprendi muito mais sobre o tamanho do meu povo e da minha própria negritude, ainda tão jovem.
Tem só dois anos que pratico o exercício de enxergar o mundo pela minha raça e me desconstruo a partir disso. Encontrei muita gente nesse curto caminho. Nem sempre alguém disposto a ensinar, a oferecer um abraço ou aberto a compartilhar o que tem dentro de si. Essa mulher compartilhou. E eu me identifiquei com muita coisa. Mas, mais do que isso, eu me orgulhei de alguém como eu, negro como eu, estar, pela primeira vez, num cargo capaz de mudar o rumo da vida de tantos outros negros.
Não revelo nome ou cargo da tal mulher por não saber se ela aprovaria a exposição. Mas me senti na obrigação de falar sobre isso primeiro pra afastar de mim a ideia de que jornalista não se afeta com depoimentos nem deve se envolver com fontes. Não somos super-heróis querendo salvar o mundo. Na atual conjuntura, não salvamos nem a nós mesmos. Falei sobre isso, admiti meu choro diante de uma entrevistada, também porque é um jeito de sonhar com um futuro possível. Um futuro melhor. Um afrofuturo. Pra mim, por óbvio, mas também pros meus.
Me sinto de alma lavada.

Comunicólogo e mestre em Antropologia, é especialista em Jornalismo Político e Escrita Literária e tem MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais. Foi repórter e editor dos jornais O Estado e O POVO, correspondente do portal Terra e colaborador do El País Brasil. Atua hoje como assessor de comunicação. Venceu o Prêmio Gandhi de Comunicação, o Prêmio MPCE de Jornalismo e o Prêmio Maria Neusa de Jornalismo, todos com reportagens sobre a população negra. No Ceará Criolo, é repórter e editor-geral de conteúdo. Escritor, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura 2020.